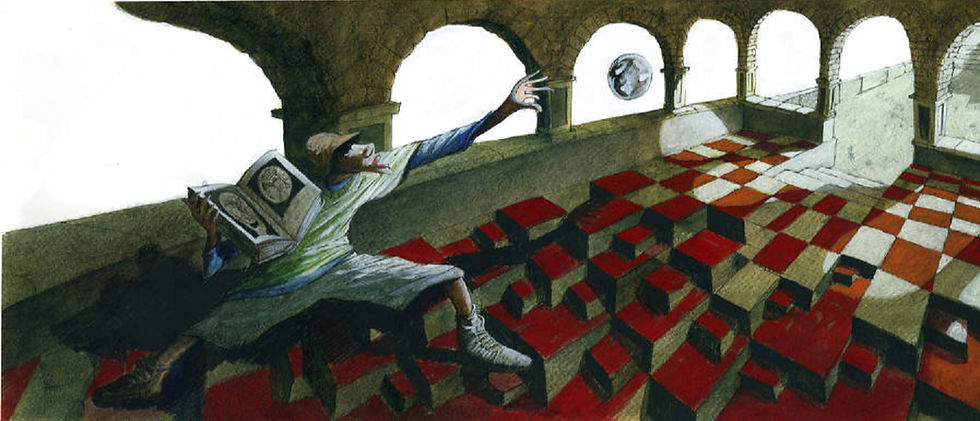COP 30: O que esperar?
- encontraponto
- 10 de nov de 2025
- 6 min de leitura
Eduardo Stotz
Vai começar a 30ª COP. Belém se apinha. Centenas de representantes políticos e sociais, milhares de ativistas, circulam pela cidade. O evento está no foco da mídia internacional. Pronunciamentos das autoridades asseguram que o mercado regulado sem excessos nos salvará da catástrofe antevista em Paris, uma década antes. Promessas, abstrações baseadas em números e cálculos de taxas de retorno enchem as bocas dos governantes e seus assessores. O sobrante não é pouco, asseguram, uma vez que permitirá investimentos sociais.
Entram na cena da Conferência por portas diferentes e ocupam lugares distintos no palco, usam linguagens opostas: lucros ou comida, comissões governamentais ou nuvens de gafanhotos. Para assegurar o sucesso do evento, os que devem permanecer no fundo serão chamados, no momento adequado, para ocupar o proscênio. Assim, devidamente ajustada (será?), tem início, aos 10 de novembro de 2025, a 30ª edição da Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).
A Conferência, contudo, foi antecedida em 6 de novembro de 2025 por acordo prévio entre os governos de 52 países, para viabilizar o sucesso do acontecimento mediante a criação do Fundo para Florestas Tropicais para Sempre (TFFF em inglês). Essa decisão definirá a linha da agenda da COP 30, desde a redução das emissões de gases estufa até a justiça climática.
Tal expectativa mal disfarça o fracasso mundial no controle das emissões por gases-estufa devido a combustíveis fósseis. Nem por isso devemos nos preocupar, assegura Luiz Inácio Lula da Silva. O nosso presidente, além de não ser muito afeito à problemática ambiental, não dá maior credibilidade para tentativas desse controle: “Eu quero saber qual é o país do planeta que está preparado para ter uma transição energética capaz de abdicar do combustível fóssil", disse Lula ao ser questionado sobre o projeto do governo brasileiro e da Petrobras de prospectar petróleo na chamada Margem Equatorial, na foz do rio Amazonas, em águas profundas do Amapá.
A declaração, publicada pelo periódico BBC News Brasil em 18 de setembro de 2025, confirma na prática, pelo lado brasileiro, o abandono da meta de manter a temperatura global em 1,5º C estabelecida no Acordo de Paris, uma década antes, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP) em 2015.
Com seu habitual pragmatismo, o presidente sabe que o petróleo, assim como o gás natural, o carvão e o xisto betuminoso, representam mais de 75% das fontes de energia utilizada mundialmente na economia capitalista. Assim, o Brasil alinha-se à China, aos EUA e aos países da União Europeia, bem como aos árabes, os principais responsáveis pelas emissões mundiais de gases de efeito-estufa oriundas de combustíveis fósseis. Fato reconhecido no título da matéria de O Globo, de 26.10.2025, “Dez anos após o Acordo de Paris, mundo está distante das metas. Apenas seis de 45 setores analisados em relatório vão na direção certa, mas mesmo assim andando muito devagar.”
Paradoxalmente, a matriz energética brasileira está principalmente baseada na força eletromotriz gerada na transformação da energia mecânica das suas bacias hidrográficas. O Brasil estaria, portanto, em condições de cumprir com a meta de neutralidade de carbono até 2050 estabelecida pela Agência Internacional de Energia (AIE), essencial para limitar o aquecimento do planeta. Desde que abandonasse novos projetos de extração de petróleo e gás.
As declarações de Lula passam ao largo e seguem na contramão. O presidente conseguiu que o IBAMA liberasse a prospecção de poços de petróleo na foz do rio Amazonas limitada tecnicamente ao controle dos riscos de vazamentos futuros, deixando de lado estudos capazes de dar conta da complexidade da área, ainda desconhecida em sua dinâmica. A ministra Marina Silva, que afirmou o caráter “técnico” da decisão da instituição de controle ambiental, mencionou, em entrevista ao canal Gov em 22 de outubro de 2025, a ausência de estudos capazes de dar conta da complexidade da área e o desconhecimento de sua dinâmica, imprescindíveis para iniciar qualquer extração de petróleo.
Por que, apesar da falta dessa base técnica, a insistência na exploração de petróleo na Margem Equatorial da foz do rio Amazonas?
A resposta veio da Shell Petroleum, uma das maiores do mundo no setor de petróleo e gás que, como todas as demais, afirma responder à demanda por energia de modo ambiental e socialmente responsável. Com o título “Sem petróleo da Margem Equatorial, produção brasileira cai a partir de 2031” a matéria publicada pela CNN Money em 20 de outubro de 2025 sintetiza as exigências da acumulação de capital na qual a Petrobras está implicada.
A previsão de reservas para exploração de petróleo da Margem Equatorial da foz do rio Amazonas, equivalentes às do pré-sal, constitui garantia dos investimentos e da lucratividade da empresa mista de capital aberto no curto e médio prazos, além da dimensão geopolítica implicada para sustentar a denominada soberania energética do país. Esse último aspecto traz para o primeiro plano a situação internacional, caracterizada pela militarização generalizada em meio às guerras por procuração dos EUA.
Cabe então retomar a pergunta do título da matéria: O que esperar da COP 30?
Do ponto de vista governamental e do Banco Mundial, a resposta encontra-se no fabuloso projeto Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, uma política mundial gerenciada por aquele banco, a ser implementada pelos governos dos países consorciados com empresas privadas e outros projetos sociais. Vale registrar que o TFFF foi idealizado em 2009 por Kenneth Lay, então tesoureiro do Banco Mundial. O fundo é constituído em 20% por empréstimos governamentais e 80% pela “venda de títulos de alta classificação e de longo prazo com vencimentos de 10 a 30 anos e taxa de retorno fixa”.
Uma das articulações é a das 55 organizações que, reunidas em Guararema (São Paulo) entre 21 e 24 de julho de 2025, decidiram opor-se à mercantilização da natureza e afirmaram que as soluções reais para a crise climática “passam pelo desmantelamento do sistema capitalista”. Mas nesse documento, que expressa a grande heterogeneidade política e ideológica vigente entre seus participantes — indígenas, camponeses, técnicos — pode-se ler “bem como das relações assimétricas e injustas de poder geopolítico, econômico, social e de gênero”, frase na qual o enfrentamento do sistema deixa aberto o caminho para a conciliação.
Os povos indígenas constituem a força social mais frágil, como se manifesta na denúncia da liderança dos Ka’apor, no Maranhão, contra a empresa norte-americana que quer vender créditos de carbono usando suas terras. Na petição encaminhada às autoridades, afirma-se que a atitude da empresa está causando conflitos internos no grupo indígena.
Os movimentos dos camponeses, por outro lado, têm seu horizonte definido pela economia mercantil que mantém as suas bases presas ao capitalismo, apesar das declarações em contrário.
A ausência do movimento sindical dos trabalhadores urbanos constitui o principal entrave nessa luta: ao mesmo tempo em que limita o alcance dos movimentos camponeses e indígenas fortalece a “sustentabilidade” do capitalismo.
Os petroleiros deveriam estar entre os primeiros grupos de trabalhadores interessados em promover a “transição energética” e a descontinuidade na abertura de novos poços de petróleo. Observe-se nesse sentido que a extração de petróleo e gás, tal como na mineração de sólidos, é uma atividade altamente predatória devido aos danos causados seja no âmbito da extração, seja da transformação (refino) ou da distribuição dos produtos (combustíveis). Dentre as vitimas imediatas dessa predação das forças do trabalho e do ambiente estão os trabalhadores diretos e indiretos da Petrobras.
Importa ressaltar as experiências históricas nas quais se evidenciam a indissociabilidade entre defesa de melhores condições de trabalho, ambiente e saúde dos trabalhadores, como exemplificam as lutas dos petroquímicos na Itália nos anos 1970-80 e a dos trabalhadores metalúrgicos (siderurgia) e petroleiros em Cubatão (conhecida à época como “Vale da Morte”), Baixada Santista - Brasil, nos anos 1980. Entretanto, desde o final dos anos 1990, os trabalhadores encontram-se numa situação geral de defensiva, enquanto os movimentos sociais vinculados às questões ambientais desenvolvem-se fundamentalmente à margem dos interesses específicos do trabalho.
As lutas ambientais que se queiram efetivas não podem ser externas à força de trabalho, afinal ao mesmo tempo a exploração capitalista degrada os trabalhadores e a natureza. A independência política de classe dos trabalhadores em relação às empresas e o Estado segue como fundamento a orientar as lutas políticas e sindicais por melhores condições de trabalho, ambiente e saúde - premissa do futuro.